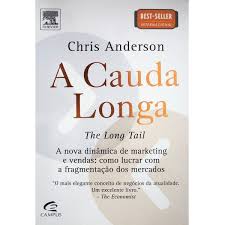Um autor e textos que seguem a análise crítica da pós-modernidade, junto de outros como Zigmunt Bauman (“Modernidade Líquida”) ou Giovanni Sartori (“Homo Videns”), no livro “The Shallows”(“A geração superficial”, na edição em português de 2011 traduzido por Mônica Gagliotti Fortunato Friaça; Nicholas Carr aborda criticamente os riscos cognitivos e mentais das novas tecnologias virtuais.
Carr é um escritor estadunidense, professor universitário, mestre em Língua e Literatura Americana formado pela Universidade de Harvard. Confira aqui uma entrevista por ele brindada à TV Espanhola (dublada em espanhol). Tanto nessa matéria quanto nos capítulos 1 e 3 do livro “The Shallows…”, o autor é taxativo: “A tecnologia pode nos desafiar e melhorar as nossas vidas, ou pode nos tornar criaturas passivas”. Os dois capítulos citados, analisados por pedido da disciplina de Cibercultura da Universidade Federal do Ceará, apresentam importantes referências bibliográficas da teoria da comunicação, bem como filosóficas, clássicas e científicas, relacionando dois importantes fatores: desenvolvimento mental e uso dos avanços tecnológicos.
Segundo o autor, a sequenciada aparição de artefatos tecnológicos, a utilização desses aparatos dentro de processos diários de comunicação e aprendizado, está mudando a percepção, memória e conhecimento das sociedades, porque modal a memória e ao cérebro. Carr apresenta o surgimento do relógio, do mapa, dos livros, das tecnologias utilizadas para o estudo e a transmissão de informação.
Nicholas traz à toa um elemento oculto mas chave dos desenvolvimentos sociais: a ética intelectual, exposta como “a mensagem que um meio ou outro instrumento transmite às mentes e cultura de seus usuários.” Assim como Sartori e Bauman, o autor destaca a importância de, mesmo na continuidade de informações virtuais fragmentadas às quais somos permanentemente submetidos, manter a leitura profunda e prolongada, como forma de manutenção dos mecanismos simbologistas e meta-congitivos de aprendizado. Eis aqui um destaque de importantes trechos dos capítulos 1 e 3 de “A Geração Superficial”, de Nicholas Carr.
Prólogo. O Cão de guarda e o ladrão.
McLuhan declarou que a “mídia elétrica” do século XX – telefone, rádio, cinema, televisão – estava rompendo a tirania do texto sobre nossos pensamentos e sentidos. Nosso egos, isolados e fragmentados, presos por séculos à leitura privada de páginas impressas, estavam se tornando inteiros novamente, fundindo-se no equivalente global de uma aldeia tribal. Estávamos nos aproximando da “simulação tecnológica da consciência, quando o processo criativo do conhecimento será coletiva e corporativamente alargado a toda a sociedade humana”.
Mesmo no auge da fama, os meios de comunicação foi um livro mais falado do que lido. Hoje tornou-se uma relíquia cultural, relegado a cursos de estudo de mídia nas universidades. Mas McLuhan, ao mesmo tempo um exibicionista e um erudito, era um mestre em frases de efeito, e uma delas, vinda das páginas do livro, sobrevive como um ditado popular: “O meio é a mensagem”. O que foi esquecido em nossa repetição desse aforismo enigmático é que McLuhan não estava apenas reconhecendo, e celebrando, o poder transformador das novas tecnologias de comunicação. Estava também alertando para a ameaça que esse poder representa – e o risco de ficar alheio a essa ameaça. “A tecnologia elétrica está dentro dos portões”, escreveu ele, “e estamos adormecidos, surdos, cegos e mudos sobre o encontro dela com a tecnologia de Gutenberg, através da qual e pela qual formou-se o modo de vida americano”.
A Internet é a mídia mais recente a estimular o debate. O confronto entre entusiastas e céticos da rede, em andamento há mais de vinte anos por meio de dezenas de livros e artigos e milhares de posts, vídeos e podcasts, está polarizado como sempre, com os favoráveis anunciando uma nova era de ouro do acesso e da participação, e os contrários lamentando uma nova idade das trevas da mediocridade e do narcisismo.O debate tem sido importante – o conteúdo importa sim – mas por depender de ideologia pessoal e gosto, acabou num beco sem saída.As opiniões ficaram extremas; os ataques, pessoais.“Ludita!”, desdenha o entusiasta. “Filisteu!”, ridiculariza o cético. “Cassandra!” “Poliana!”
O que ambos estão esquecendo é o que McLuhan viu: que a longo prazo o conteúdo de uma mídia importa menos que ela própria em influenciar o modo como pensamos e agimos.
Nos deslumbramos tanto com a programação, ou nos incomodamos tanto com ela, que deixamos de perceber o que está acontecendo dentro de nossas cabeças.
Toda nova mídia, McLuhan concluiu, nos modifica. “Nossa resposta convencional a todas as mídias, ou seja, de que é como são usadas que conta, é a postura insensível do idiota tecnológico”, escreveu ele. O conteúdo de um meio é apenas “o pedaço suculento de carne oferecido pelo ladrão para distrair o cão de guarda de nossas mentes”.
Mesmo os conscientes da influência cada vez maior da rede raramente permitem que suas preocupações atrapalhem o uso e a diversão com a tecnologia. O crítico de cinema David Thomson observou certa vez que “as dúvidas podem se tornar frágeis em face da certeza do meio”. Ele estava falando sobre o cinema e como ele projeta suas sensações e sensibilidades, não só na tela de cinema mas em nós, o público entretido e obediente. O comentário aplica-se à Internet com ainda mais força. O computador tira nossas dúvidas com recompensas e conveniências.
Capítulo 1. HAL E EU
Minha concentração começa a derivar depois de uma página ou duas. Fico nervoso, perco a trama, começo a procurar outra coisa para fazer. Sinto como se estivesse sempre puxando o meu cérebro de volta ao texto. A leitura profunda, que sempre vinha naturalmente, tornou-se uma luta.
Os ganhos são reais, mas têm seu preço.Como McLuhan sugeriu, as mídias não são apenas canais de informação. Elas fornecem o material do pensamento, mas também moldam o processo de pensamento. E o que a Web parece estar fazendo é enfraquecer aos poucos minha capacidade de concentração e de contemplação. Não importa se estou online ou não, minha mente agora espera assimilar a informação do mesmo jeito como a Internet a distribui: num fluxo de partículas que se deslocam rapidamente. Antes eu era um mergulhador no mar das palavras. Hoje eu apenas surfo na superfície, como alguém num jet ski.
Para Davis, “a Internet pode até ter-me tornado um leitor menos paciente, mas acho que de muitas maneiras tornou-me mais inteligente. Ter mais conexões com documentos, artefatos e pessoas significa ter mais influências externas para meu pensamento e, portanto, para meus textos”. Todos os três admitem ter sacrificado algo importante, mas não cogitam voltar para o modo como as coisas eram antes.
Para algumas pessoas, a própria ideia de ler um livro parece antiquada, talvez até um pouco boba, tal como costurar a própria camisa ou cozinhar a própria comida. “Eu não leio livros”, diz Joe O’Shea, um ex-presidente do corpo estudantil da Universidade da Flórida e um ganhador da bolsa de estudos Rhodes. “Uso o Google e obtenho rapidamente informações pertinentes”. O’Shea, aluno de filosofia, não vê nenhuma razão para estudar capítulos de textos quando basta um minuto ou dois para escolher as passagens relevantes utilizando o Google Book Search. “Sentar-me e ler um livro de capa a capa não faz sentido”, diz. “Não considero um bom uso do meu tempo, já que posso obter todas as informações de que preciso mais rapidamente na web”. Assim que se aprende a ser“um caçador experiente” on-line, segundo ele, os livros tornam-se supérfluos.
As pessoas usam a Internet das mais variadas maneiras. Algumas são ansiosas, usam compulsivamente as últimas tecnologias. Mantêm contas em uma dúzia de serviços online e inscrevem-se em dezenas de serviços de notícias. Blogam e usam tags, mandam torpedos e tuítam. Outras não se importam muito de estar na vanguarda, mas ainda assim ficam online a maior parte do tempo,digitando no computador, notebook ou telefone celular. A Internet tornou-se essencial para o trabalho, escola ou vida social, e até para os três. Já outras pessoas se conectam poucas vezes por dia, seja para checar seus e-mails, acompanhar uma notícia, pesquisar um tópico de interesse, ou fazer compras. E há, claro, muitos que nem usam a Internet, ou porque não podem pagar ou porque não querem. O que está claro, entretanto, é que para a sociedade como um todo a Internet tornou-se, em apenas vinte anos, desde que o programador Tim Berners-Lee escreveu o código para a World Wide Web, a principal mídia comunicativa e informativa.
Nos últimos cinco séculos, desde que a prensa de Gutenberg tornou a leitura popular, a mente linear e literária tem estado no centro da arte, da ciência e da sociedade. Tão flexível quanto sutil, ela foi a mente criativa do Renascimento, a mente racional do Iluminismo, a mente inventiva da Revolução Industrial, até a mente subversiva do Modernismo. Mas logo poderá ser a mente de ontem.
O computador, comecei a perceber, era mais que apenas uma ferramenta que fazia o que a gente mandasse fazer. Era uma máquina que, de maneira sutil e inconfundível, exercia influência sobre agente. Quanto mais o usava, mais ele mudava meu modo de trabalhar. No começo achava impossível editar qualquer coisa na tela. Imprimia os documentos, marcava com lápis e digitava as revisões de volta no computador. Então, imprimia novamente e passava de novo o lápis. Fazia isso uma dúzia de vezes. Mas em algum momento, de repente, minha rotina de edição mudou. Achei que não conseguia mais escrever ou rever qualquer coisa no papel. Senti-me perdido sem a tecla DEL, a barra de rolagem, as funções de cortar e colar, sem o comando Desfazer. Tinha que editar na tela. Ao utilizar o processador de texto, eu mesmo havia me tornado uma espécie de processador de texto.
Você sabe o resto da história, porque a sua deve ter sido assim também. Chips cada vez mais rápidos. Modems mais rápidos.
DVDs e gravadores de DVD, discos rígidos do tamanho de Gigabytes. Yahoo e Amazon e eBay. MP3s. Streaming de vídeo. Banda Larga. Napster e Google. Blackberrys e iPods. As redes Wi-fi. YouTube e Wikipedia. Os blogs e microblogs. Smartphones, pendrives, netbooks. Quem poderia resistir? Eu mesmo não.
Em 2007, uma serpente de dúvida surgiu no meu infoparaíso. Comecei a notar que a Internet estava exercendo uma influência muito mais forte e ampla sobre mim do que meu velho PC. Não era certo gastar tanto tempo olhando uma tela de computador. Não era certo mudar tantos hábitos e rotinas à medida que ficava mais acostumado e dependente de sites e serviços da web. O próprio modo de funcionar do meu cérebro parecia estar mudando. Foi então que comecei a me preocupar com a incapacidade de prestar atenção a qualquer coisa por mais de um minuto. No começo imaginei que fosse um sintoma da meia-idade. Mas meu cérebro, percebi depois, não estava apenas à deriva. Estava com fome. Estava exigindo ser alimentado como a Internet o alimentava – e quanto mais ingeria, mais ficava faminto. Mesmo quando estava longe do computador, eu ansiava por checar os e-mails, clicar nos links, pesquisar no Google. Eu queria estar conectado.
Senti falta do meu antigo cérebro.
Capítulo 3. FERRAMENTAS PARA A MENTE
Nosso amadurecimento intelectual como indivíduos pode ser medido pela forma como desenhamos imagens, ou mapas, de nossa região. Começamos com esboços primitivos e literais do que vemos ao redor, e avançamos até representações cada vez mais precisas e abstratas do espaço geográfico e topográfico. Progredimos, em outras palavras, do desenho do que vemos para o desenho do que conhecemos.
Vincent Virga, um especialista em cartografia afiliado à Biblioteca do Congresso, observa que as etapas do desenvolvimento de nossas habilidades de cartografia assemelham-se aos estágios do desenvolvimento cognitivo infantil delineados pelo psicólogo suíço Jean Piaget. Passamos da percepção infantil do mundo, egocêntrica e puramente sensorial, para a análise juvenil da experiência, mais abstrata e objetiva. E, finalmente, um ‘realismo’ visual aparece, [com o uso de] cálculos científicos para alcançá-lo”.
Ao passar pelo processo de amadurecimento intelectual, estamos vivenciando toda a história da cartografia. Os primeiros mapas da humanidade, riscados no chão com um pau ou esculpidos em uma pedra por outra pedra, eram tão rudimentares quanto os rabiscos de um bebê. Com o tempo, os desenhos tornaram-se mais realistas, delineando as proporções reais do espaço, que muitas vezes se estendia muito além do que os olhos podiam ver. Quanto mais o tempo passava, o realismo tornava-se científico tanto na precisão quanto na abstração.
O cartógrafo começou a usar ferramentas sofisticadas, como a bússola e o teodolito para medir ângulos, e a contar com cálculos e fórmulas matemáticas. Finalmente, em um salto intelectual posterior, os mapas passaram a ser usados não apenas para representar vastas regiões da Terra ou dos céus nos mínimos detalhes, mas para expressar ideias – um plano de batalha, uma análise da propagação de uma epidemia, uma previsão de crescimento da população. “O processo intelectual de transformar experiência em espaço em abstração do espaço é uma revolução no modo de pensar”, segundo Virga.
O que o mapa fez pelo espaço – traduzir um fenômeno natural numa concepção artificial e intelectual, uma outra tecnologia, o relógio mecânico, fez pelo tempo. Na maior parte da história humana, as pessoas viam o tempo como um fluxo contínuo e cíclico. De certa maneira, o tempo era “mantido”, o que era feito por instrumentos que enfatizavam esse processo natural: relógios de sol cujas sombras se moviam, ampulhetas por onde a areia caía, clepsidras por onde a água corria. Isso começou a mudar na segunda metade da Idade Média. As primeiras pessoas a procurar uma medição mais precisa do tempo foram os monges cristãos, cuja vida girava em torno de uma agenda rigorosa de orações.
O desejo pela cronometragem precisa espalhou-se para fora do mosteiro. As cortes reais e os nobres da Europa, repleta de riquezas e valorizando os dispositivos mais recentes e engenhosos, começaram a cobiçar os relógios e investir no seu aperfeiçoamento e fabricação.
O relógio mecânico mudou a maneira como nos vemos. E, como o mapa, mudou a maneira como pensamos. Quando o relógio redefiniu o tempo como uma série de unidades de igual duração, nossa mente começou a enfatizar o trabalho metódico mental de divisão e medição. Começamos a ver, em todas as coisas e fenômenos, as peças que compunham o todo, e então começamos a ver as peças da qual as peças são feitas. Nosso pensamento ficou aristotélico em sua ênfase em discernir os padrões abstratos por trás das superfícies visíveis do mundo material. O relógio desempenhou um papel crucial em tirar-nos da Idade Média e levar-nos ao Renascimento e ao Iluminismo. Em Técnicas e Civilização, sua meditação de 1934 sobre as consequências da tecnologia nos homens, Lewis Mumford descreveu como o relógio “ajudou a criar a crença em um mundo independente de sequências matematicamente mensuráveis”. A “ideia abstrata do tempo dividido” tornou-se “o ponto de referência para a ação e o pensamento”. Independente das questões práticas que inspiraram a criação dos relógios e guiaram seu uso diário, o tique metódico ajudou a surgir a mente científica e o homem de ciência.
Toda tecnologia é uma expressão da vontade humana. Com nossas ferramentas, buscamos ampliar nosso poder e controle sobre as circunstâncias – a natureza, o tempo, a distância, um sobre o outro. Nossas tecnologias podem ser divididas, como completam ou ampliam nossas capacidades nativas. Um conjunto, que abrange o arado, a agulha de costura e o caça, amplia nossa força física, destreza ou flexibilidade. Um segundo conjunto, que inclui o microscópio, o amplificador e o contador Geiger, amplia o alcance e a sensibilidade de nossos sentidos. Um terceiro grupo, que vai das tecnologias como o açude e a pílula anticoncepcional ao milho geneticamente modificado, permite-nos mudar a natureza para melhor servir nossas necessidades e desejos.
Embora o uso de qualquer tipo de ferramenta possa influenciar nossos pensamentos e perspectivas – o arado mudou a visão do agricultor, o microscópio abriu novos mundos de exploração mental para o cientista, são nossas tecnologias intelectuais que têm o poder maior e mais duradouro sobre o quê e como pensamos. São nossos instrumentos mais íntimos, os que usamos para nos autoexprimir, para formar a identidade pública e pessoal e para cultivar relações com os outros.
O que Nietzsche percebeu ao datilografar em sua máquina de escrever – que as ferramentas que usamos para escrever, ler, trabalhar e manipular nossas mentes trabalham com elas – é um tema central da história intelectual e cultural. Como as histórias do mapa e do relógio bem ilustram, as tecnologias intelectuais, quando caem no gosto popular, muitas vezes promovem à população em geral novas formas de pensar ou estender as formas tradicionais de pensar antes limitadas a uma pequena elite. Em outras palavras, toda tecnologia intelectual incorpora uma ética intelectual, um conjunto de suposições sobre como a mente humana funciona ou deveria funcionar.
Geralmente os usuários da tecnologia também são alheios a sua ética. Também estão preocupados com os benefícios práticos obtidos com o uso da ferramenta. Nossos antepassados não desenvolveram ou utilizaram os mapas para reforçar sua capacidade de pensamento conceitual ou para revelar as estruturas ocultas do mundo. Nem fabricaram os relógios mecânicos para estimular a adoção de um modo mais científico de pensar. Aqueles eram subprodutos das tecnologias. Mas que subprodutos! Em última instância, é a ética intelectual de uma invenção que tem o efeito mais profundo em nós. A ética intelectual é a mensagem que um meio ou outra ferramenta transmite para as mentes e a cultura de seus usuários.
Durante séculos, historiadores e filósofos têm traçado e debatido o papel da tecnologia na formação da civilização. Alguns argumentaram o que o sociólogo Thorstein Veblen chamou de “determinismo tecnológico”.
Nosso papel essencial é produzir ferramentas cada vez mais sofisticadas para “fertilizar” as máquinas como as abelhas fecundam as plantas – até que a tecnologia desenvolva a capacidade de se reproduzir por conta própria. Nesse ponto, nós seremos dispensáveis.
No outro extremo estão os instrumentalistas –pessoas que, como David Sarnoff, minimizam o poder da tecnologia, crendo que as ferramentas são artefatos neutros, totalmente subservientes aos desejos conscientes de seus usuários. Nossos instrumentos são os meios que usamos para alcançar nossos objetivos, pois não tem fins próprios. O instrumentalismo é a opinião mais difundida da tecnologia, não menos porque é a visão que preferimos que seja a verdadeira. A ideia de que somos de alguma forma controlados por nossas ferramentas é um anátema para a maioria das pessoas. “Tecnologia é tecnologia”, declarou o crítico de mídia James Carey, “é um meio de comunicação e de transporte sobre o espaço, e nada mais”.
Mas se for tomada uma visão mais histórica ou social, as alegações dos deterministas ganham credibilidade. Embora os indivíduos e as comunidades possam tomar decisões muito diferentes sobre quais ferramentas usar, isso não quer dizer que, como espécies, tivemos controle sobre o caminho ou o ritmo do progresso tecnológico. É difícil acreditar que “escolhemos” usar mapas e relógios (como se tivéssemos escolha). É ainda mais difícil aceitar que “escolhemos” a gama de efeitos colaterais de tais tecnologias, muitos dos quais, como vimos, foram totalmente inesperados quando a tecnologia entrou em uso.
O conflito entre deterministas e instrumentistas nunca será resolvido. Trata-se, afinal, de duas visões radicalmente diferentes da natureza e do destino da humanidade. O debate é tanto sobre a fé quanto sobre a razão. Mas há uma coisa em que ambos concordam: os avanços tecnológicos muitas vezes marcam momentos decisivos na história.
O que tem sido mais difícil de discernir é a influência das tecnologias, especialmente as intelectuais, sobre o funcionamento do cérebro humano. Podemos ver os produtos do pensamento – obras de arte, descobertas científicas, símbolos preservados em documentos, mas não o próprio pensamento. Há uma abundância de organismos fossilizados, mas nenhum fóssil de mente. “Feliz e calmamente eu desdobraria uma história natural do intelecto”, escreveu Emerson em 1841, “mas qual homem já foi capaz de marcar as etapas e os limites daquela essência transparente?”
Sabemos que a forma básica do cérebro humano não mudou muito nos últimos quarenta mil anos. A evolução, ao nível genético, prossegue com deslumbrante lentidão, pelo menos quando medido pela concepção humana de tempo. Mas sabemos também que a forma de pensar e agir dos seres humanos mudou bastante através dos milênios.
Embora o funcionamento de nossa massa cinzenta ainda esteja fora do alcance das ferramentas dos arqueólogos, hoje sabemos não só que é provável que o uso de tecnologias intelectuais tenham (re)modelado o circuito em nossas cabeças, mas que tinha de ser assim. Qualquer experiência repetida influencia nossas sinapses, as mudanças provocadas pelo uso recorrente das ferramentas que estendem ou complementam nosso sistema nervoso devem ser particularmente acentuadas.
O processo da nossa adaptação mental e social às novas tecnologias intelectuais se reflete, e são reforçadas, pelas metáforas inconstantes que usamos para descrever e explicar o funcionamento da natureza. Assim que os mapas se tornaram todos os tipos de relações naturais e sociais seriam mapeáveis, como um conjunto de elementos fixos, arranjos delimitados no espaço real ou figurativo.
A linguagem em si não é uma tecnologia. É algo natural na nossa espécie. Nossos cérebros e corpos evoluíram para falar e ouvir palavras. Uma criança aprende a falar sem instrução, como um bebê pássaro aprende a voar. Como a leitura e a escrita se tornaram tão importantes para a nossa identidade e nossa cultura, é fácil supor que também sejam talentos inatos. Mas não são. Ler e escrever não são ações naturais, só são possíveis pelo desenvolvimento intencional do alfabeto e de muitas outras tecnologias. Nossas mentes têm de ser ensinadas a traduzir os caracteres simbólicos que vemos na língua que entendemos. A leitura e a escrita exigem aprendizagem e prática, a deliberada formação do cérebro.
Experimentos revelaram que os cérebros de pessoas alfabetizadas diferem dos cérebros dos analfabetos em muitos aspectos, não só na forma como eles entendem a linguagem, mas em como processam os sinais visuais, raciocinam e formam suas memórias. Já foi mostrado que “aprender a ler”, relata a psicóloga mexicana Feggy Ostrosky-Solís, “modela vigorosamente os sistemas neuro-psicológicos.” Exames de mapeamentos cerebrais revelaram também que as pessoas cuja língua escrita usa símbolos logográficos, como o chinês, desenvolvem um circuito mental para a leitura que é consideravelmente diferente dos circuitos encontrados em pessoas cuja língua escrita utiliza um alfabeto fonético.
A tecnologia da escrita deu um importante passo por volta do quarto milênio antes de Cristo.
Nessa época, os sumérios, habitantes da região entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje se localiza o Iraque, começaram a escrever com um sistema de símbolos em forma de cunha, chamado cuneiforme, enquanto a alguns milhares de quilômetros a oeste, os egípcios desenvolviam a abstrata ideia dos hieroglifos, para representar objetos e ideias.
Como os sistemas cuneiforme e hieróglifo incorporavam muitos caracteres logossilábicos, denotando não só coisas mas sons, exigia-se bem mais do cérebro que apenas pedrinhas para contar suprimentos. Antes de se poder interpretar o significado de um caractere, tinha-se de analisar o próprio caractere para saber como ele estava sendo usado.
Para a tecnologia da escrita progredir para além dos modelos sumérios e egípcios, para que se tornasse uma ferramenta usada por muitos e não por uma minoria, teria de tornar-se bem mais simples.
Isso não aconteceu até bem recentemente, por volta de 750 aC, quando os gregos inventaram o primeiro alfabeto fonético completo. Ele teve muitos precursores, particularmente o sistema de letras desenvolvido pelos fenícios alguns séculos antes, mas os linguistas geralmente concordam que foi o alfabeto grego o primeiro a incluir caracteres representando sons vocálicos e consoantes.
O alfabeto grego passou a ser um modelo para a maioria dos alfabetos ocidentais subsequentes, incluindo o alfabeto romano, que ainda hoje utilizamos. Seu surgimento marcou o início de uma das revoluções de mais longo alcance na história intelectual: a passagem de uma cultura oral, na qual o conhecimento era compartilhado principalmente pela fala, para uma cultura literária, em que a escrita se tornou o principal meio de expressão do pensamento. Foi uma revolução que mais tarde mudaria as vidas e os cérebros de quase todos na Terra, mas a transformação não foi bem vinda por todos, pelo menos não ao início.
Quem confiar na escrita para obter conhecimento “parecerá saber muito, enquanto na maior parte não sabe nada”. Será “preenchido, não com sabedoria, mas com o conceito de sabedoria.”
Sócrates admite que há benefícios práticos na captura do pensamento pela escrita “como ajuda contra o esquecimento próprio da velhice” – mas argumenta que depender da tecnologia do alfabeto alterará a mente das pessoas, e não para melhor.
Com a substituição das memórias internas por símbolos externos, a escrita ameaça tornar-nos pensadores superficiais, diz ele, impedindo-nos de atingir a profundidade intelectual que nos leva à sabedoria e à verdadeira felicidade.
Em uma cultura puramente oral, o pensamento é regido pela capacidade da memória humana. O conhecimento é o que se consegue lembrar, e o que se lembra é limitado ao que se pode guardar na mente. Através dos milênios de história pré-alfabetizada, a linguagem evoluiu para ajudar o armazenamento de informações complexas em memória individual e tornar mais fácil a troca de informações com outras pessoas através da fala.
Mas, intelectualmente, a cultura oral de nossos antepassados foi, em muitos aspectos, mais rasa que a nossa. A palavra escrita livrou o conhecimento dos limites da memória individual e libertou a linguagem das estruturas rítmicas e mecanizadas necessárias à memorização e à recitação. Abriu à mente novas e amplas fronteiras do pensamento e da expressão. “As conquistas do mundo ocidental, é óbvio, são testemunho dos tremendos valores da alfabetização”, escreveu McLuhan.
Mas a alfabetização “é plenamente necessária para o desenvolvimento não só da ciência, mas também da história, da filosofia, da compreensão detalhada da literatura e de qualquer arte, e, de fato para a explicação da linguagem em si (inclusive a fala)”. A habilidade de escrever é “imperiosamente inestimável e de fato essencial para a realização dos potenciais humanos mais íntimos e completos”, concluiu. “Escrever eleva a consciência”.
Share the Elegance! / Partagez l´´Elégance!
 Lacie Pound (interpretada pela atriz Bryce Dallas Howard), uma funcionária que mora com seu irmão num ambiente em que as pessoas vivem relacionadas por aplicativos digitais que avaliam seus desempenhos, principalmente a sua “popularidade”, ranqueando-as com pontuação dada por estrelas.
Lacie Pound (interpretada pela atriz Bryce Dallas Howard), uma funcionária que mora com seu irmão num ambiente em que as pessoas vivem relacionadas por aplicativos digitais que avaliam seus desempenhos, principalmente a sua “popularidade”, ranqueando-as com pontuação dada por estrelas.





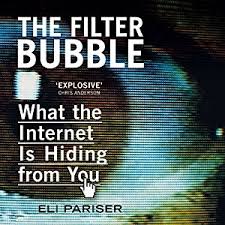 Um autor hoje famoso por praticamente “prever” as discutidas vitórias da campanha “Brexit” e do presidente Donald Trump, Eli Pariser foi um dos iniciadores da convivência e os contatos em forma de redes sociais. Desde 2004 ele coordena a plataforma MoveOn.org, voltada à mobilização política que, estrategicamente, movimenta informações e metodologias de produção, tais como o “crowdfounding”, que foi copiado no mundo todo.
Um autor hoje famoso por praticamente “prever” as discutidas vitórias da campanha “Brexit” e do presidente Donald Trump, Eli Pariser foi um dos iniciadores da convivência e os contatos em forma de redes sociais. Desde 2004 ele coordena a plataforma MoveOn.org, voltada à mobilização política que, estrategicamente, movimenta informações e metodologias de produção, tais como o “crowdfounding”, que foi copiado no mundo todo.